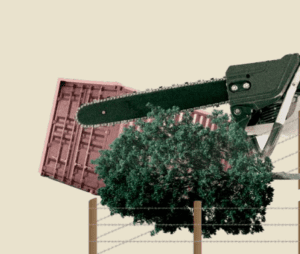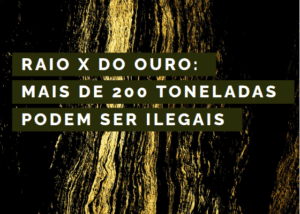CARTA DE ALTER: propostas de infraestrutura para a Amazônia
“Somos contra projetos que nos matam, matam nossos rios e nossa floresta. Esses grandes projetos não são infraestrutura para nós, precisamos de pequenos projetos, que nos fortaleçam (…) A principal infraestrutura da Amazônia é a floresta em pé.” Maura Arapiun, secretária do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns As organizações vinculadas ao GT Infraestrutura e redes aliadas reuniram-se em Alter do Chão, PA, de 4 a 6 de julho de 2022, com participação significativa de organizações e movimentos sociais da região, ouvindo relatos, buscando respostas e propondo estratégias e ações concretas frente a velhos e novos desafios da região. Como resultado, preparamos este documento dirigido à sociedade brasileira com vistas a contribuir com os debates do processo eleitoral, bem como com a construção e a implementação de políticas públicas a partir de 2023. Nas últimas décadas, entre os principais vetores de desmatamento e conflitos socioambientais na Amazônia brasileira, estão obras de infraestrutura planejadas para sustentar o modelo de exploração predatória da região, tais como hidroelétricas, portos e estações de transbordo de grãos, hidrovias, ferrovias e rodovias. A situação se agravou no governo Bolsonaro, que promoveu uma série de retrocessos nos direitos de povos indígenas e comunidades tradicionais, a partir do incentivo à grilagem de terras públicas e áreas protegidas, que se somam ao sucateamento das autarquias públicas que atuam no território amazônico. Mortes brutais, como as do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips estão longe de ser um caso isolado, e fazem parte de uma política de silenciamento de lideranças sociais submetidas a violações profundas dos mais básicos direitos humanos. O Brasil pode ajudar o planeta a mitigar os efeitos da crise climática. No quesito infraestrutura, para tanto precisamos de infraestrutura PARA a Amazônia e não apenas NA Amazônia. Devemos considerar fundamentalmente o respeito e a promoção de arranjos socioprodutivos capazes de conviver com a floresta e garantir o acesso a direitos básicos como saúde, educação, energia e saneamento. O GT Infraestrutura tem clareza de que a floresta é a principal infraestrutura da Amazônia. Em seu mais recente trabalho, conduzido por Ricardo Abramovay, propõe quatro dimensões necessárias para repensar o assunto: natureza, cuidado, serviços e organização coletiva. É com essa base que apresentamos propostas de ações concretas para cuidar do ambiente e das pessoas, movimentando uma agenda de desenvolvimento justo, participativo e inclusivo desse manancial de saberes dos quais são guardiões seus povos e comunidades tradicionais. Nossas propostas: Retomar as ações de comando e controle na Amazônia e em outros biomas, como o Cerrado, acabando com essa cultura onde o “ilegal” é “legal”. Reestruturar urgentemente as instituições públicas responsáveis pelo combate à economia da destruição, que consome rios e florestas, viola direitos humanos e aprofunda a desigualdade social. Garantir a aplicação de políticas de proteção dos defensores da floresta e dos Direitos Humanos, mitigando riscos, para que essas pessoas possam seguir suas lutas junto com os povos indígenas, quilombolas, extrativistas e ribeirinhos. Fortalecer a campanha Vida Por Um Fio: Autoproteção das Comunidades e Lideranças Ameaçadas e também a rede de proteção, nacional e em cada estado. Discutir um modelo novo de logística para a Amazônia, repensando prioridades e institucionalizando o processo decisório, resultando em boas práticas de planejamento, incluindo a avaliação de alternativas, ampla participação da sociedade em todas as etapas e o atendimento às demandas de promoção dos produtos da sociobiodiversidade. Revisar de forma transparente, os projetos de infraestrutura de logística de transportes de cargas atualmente previstos no Programa de Parceria de Investimentos (PPI). Fortalecer políticas públicas de planejamento e licenciamento ambiental de obras de infraestrutura, com o objetivo de permitir melhores escolhas que maximizem benefícios para a sociedade e que evitem a repetição de desastres e as violações de direitos. Envolver os beneficiários das comunidades no desenvolvimento de modelos energéticos distribuídos para a transição energética justa e inclusiva, garantindo energia limpa e de qualidade para todos e antecipando as metas de universalização do governo federal e dando condições energéticas para o desenvolvimento sustentável local. Adotar políticas efetivas de incentivo para o aumento da mini e micro geração distribuída na região amazônica, como contribuição à matriz elétrica nacional e a uma transição energética verdadeiramente justa e popular. Reivindicar um processo de moratória para novos grandes empreendimentos energéticos na Amazônia enquanto não houver a revisão do Plano Nacional de Energia à luz dos compromissos climáticos do país. Considerar o desenvolvimento urbano como processo fundamental para a sustentabilidade e bem estar humano na Amazônia, com infraestruturas adequadas ao contexto local. Cidades e assentamentos humanos devem ser protagonistas na implementação de medidas de conservação socioambiental, de promoção da diversidade sociocultural e de mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Adotar medidas para proteger os rios, elementos vitais para a manutenção da vida e da diversidade no ambiente amazônico. Apoiar o monitoramento de ações relacionadas ao estresse antropogênico imposto aos rios, bem como aquelas de suporte à manutenção dos recursos hídricos e da integridade dos sistemas fluviais. Respeitar o direito de consulta e consentimento livre, prévio e informado dos povos indígenas e outras populações tradicionais e fortalecer políticas de governança Estruturar um plano integrado de combate ao garimpo em terras indígenas, a fim de fazer cumprir a vedação constitucional desta atividade nestes territórios. Reconhecer que o garimpo não é um vetor de desenvolvimento da Amazônia e que precisa ser substituído em benefício de outras cadeias produtivas, capazes de conviver com a floresta e os rios, assegurar direitos e reduzir a desigualdade social. Promover e aprimorar o controle social, em todo o ciclo da infraestrutura, incluindo uma maior aproximação das organizações da sociedade civil e representantes de povos com os tribunais de contas. Garantir a transparência dos processos decisórios e o acesso à informação de forma integral, acessível e em tempo real sobre políticas, planos e projetos específicos, promovendo a integridade e o combate à corrupção nas entidades, órgãos públicos e empresas do setor de infraestrutura. Responsabilizar instituições financeiras e empresas para que tenham a obrigação de assumir compromissos e mecanismos robustos a respeito dos direitos humanos, da proteção ambiental e da construção de uma